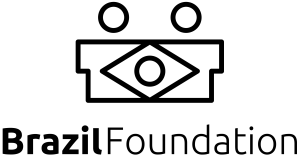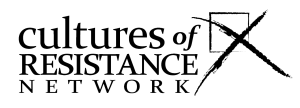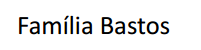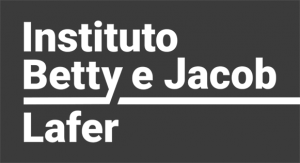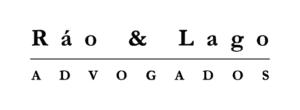Farto e variado o mosaico de posturas e intelecções jurídicas, novas ou remodeladas, quando não também —pelo menos algumas— antinômicas entre si, já produzido pelo ainda corrente julgamento do denominado mensalão.
Antes, porém, da que inspira o presente artigo, algumas outras, em ligeiro escorço:
Rejeição, na apreciação de questão de ordem —reiterada, da tribuna, pelo advogado Márcio Thomaz Bastos— da arguição de inconstitucionalidade da ampliação da competência penal do STF para processar e julgar, originariamente, os acusados que, por não exercerem qualquer das funções ou cargos públicos enumerados no artigo 102, I, b e c, da Constituição, não guardam relação alguma com o estrito e restrito fator determinante dessa “jurisdição excepcional, que afasta o juiz natural de qualquer pessoa” (voto do Min. MOREIRA ALVES no julgamento em que se decretou o cancelamento da Súmula 394 — Inq-QO 687, Rel. Min. SIDNEY SANCHES, j. 25 de agosto de 1999, DJ 9 de novembro de 2001);
Ainda que implicitamente, subsequente aceitação da tese na determinação de remessa a juízo de primeira instância do processo desmembrado em relação a corréu por força do reconhecimento de nulidade decorrente da falta de intimação válida da defesa no curso da ação penal;
Afastamento da necessidade, para a configuração dos delitos de corrupção ativa e passiva, até mesmo da mera indicação do ato de ofício representativo, ainda que apenas potencialmente, da contrapartida da vantagem indevida em que se consubstancia o objeto das condutas nucleares dos respectivos arquétipos legais.
Nesse lineamento, emblemático o antagonismo com o paradigma consagrado no julgamento da AP 307 (promovida contra ex-Presidente da República, entre outros), oportunidade em que assentou a Corte, com efeito: “1.2. Improcedência da acusação. Relativamente ao primeiro episódio, em virtude não apenas da inexistência de prova de que a alegada ajuda eleitoral decorreu de solicitação que tenha sido feita direta ou indiretamente, pelo primeiro acusado, mas também por não haver sido apontado ato de oficio configurador de transação ou comércio com o cargo então por ele exercido. No que concerne ao segundo, pelo duplo motivo de não haver qualquer referência, na denúncia, acerca de vantagem solicitada ou recebida pelo primeiro acusado, ou a ele prometida, e de não ter sido sequer apontado ato de oficio prometido ou praticado pelo primeiro acusado (…)”.[1] Ressalte-se haver o eminente ministro Celso de Mello, no longo e substancioso voto então proferido, repetidamente assinalado: “Sem a necessária referência ou vinculação do comportamento material do servidor público a um ato de oficio —ato este que deve obrigatoriamente incluir-se no complexo de suas atribuições funcionais (RT 390/100 RT 526/356 RT 538/324) revela-se inviável qualquer cogitação jurídica em torno da caracterização típica do crime de corrupção passiva definido no caput do art. 317 do Código Penal”[2];
Sensível esvaziamento do postulado constitucional da não-culpabilidade —“cujo domínio de incidência mais expressivo é o da disciplina da prova”[3] e no âmbito da qual “ (…) faz recair sobre o órgão da acusação, agora de modo muito mais intenso, o ônus substancial da prova, fixando direito a ser indeclinavelmente observado pelo magistrado e pelo legislador. É preciso relembrar, Sr. Presidente, que não compete ao réu demonstrar sua inocência. Antes, cabe ao Ministério Público demonstrar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado”[4] —por enunciados como: “nos delitos de poder, autoriza-se “maior elasticidade na admissão da prova de acusação”[5], “se há fato extraordinário, que foge à conclusão com base na experiência, cabe então à defesa prová-lo. O comportamento ilícito se infere da experiência”[6], etc.;
Reconhecimento de responsabilidade penal por autoria intelectual à base da elastecida concepção de que a teoria do domínio do fato —germinada por WELZEL em 1939 e aperfeiçoada por ROXIN em 1963— dispensaria conduta pessoal concreta e conscientemente conectada à realização do ilícito, contentando-se com a simples proeminência funcional ou ascendência hierárquica sobre os respectivos autores materiais. Emblemático viés “contemporâneo” do “direito penal de autor”: “Fácil será, portanto, apontar, na história, períodos em que se pretendeu, por motivos religiosos ou por razões de Estado, fundar a pena criminal não naquilo que o “agente faz”, mas no que “ele é” (…)”.[7] Ou seja: responsabilidade penal objetiva. E, mais, na contramão de taxativo pressuposto da própria teoria de ROXIN: “(…) a posição de domínio somente pode ser concebível com a intervenção da consciência e vontade do agente. Não podendo, assim, haver domínio do fato sem dolo, compreendido como conhecer e querer os elementos objetivos que compõem o tipo legal”[8];
Compreensão de que o crime de lavagem de dinheiro aperfeiçoa-se com a mera ocultação do bem, direito ou valor proveniente de outro ilícito penal, ainda que atribuídos, ambos, à(s) mesma(s) pessoa(s), transfundindo-se, portanto, numa extravagante espécie de favorecimento real praticado pelo mesmo agente do crime antecedente! Ademais, na linha da intelecção majoritariamente agasalhada no julgamento em tela, o recebimento de dinheiro representativo da vantagem indevida constitutiva do objeto material do delito de corrupção passiva, ao mesmo tempo em que protagonizaria a sua própria consumação ou exaurimento (na modalidade de solicitar), caracterizaria, também, o branqueamento de capitais. Conseguintemente, este só não ganharia concreção se o agente declarasse provir o numerário recebido de crime de corrupção; id est: se o confessasse. Às favas, pois, o secular nemo tenetur se detegere!
Agora, e finalmente, o tema do artigo. Cerca de vinte dias atrás e sob o subtítulo “OAB apurará se Britto violou prerrogativas de Toron”, noticiou a revista eletrônica ConJur: “ (…) Britto negou a fala ao criminalista, antes mesmo que Toron dissesse qual era a questão de ordem que pediria. “Eu gostaria de pedir uma questão de ordem”, disse o advogado. “Eu indefiro”, respondeu o ministro. “Mas, Vossa Excelência, eu ainda nem falei”, argumentou Toron. “Mas eu indefiro”, resolveu Britto (…)”[9]
Independentemente de eventuais divergências sobre a exata configuração factual do episódio noticiado[10], encerra ele destacada relevância no contexto do pedido, da concessão e do uso da “palavra pela ordem”, durante audiências e sessões de julgamento, pelo advogado.
É que à tribuna não se dirigiu o mencionado patrono para simplesmente “esclarecer matéria de fato”, expressão consagrada na praxe forense para balizar, indevidamente, a intervenção do advogado. Mas para deduzir requerimento. Indeferiu-o, é fato, o eminente presidente da corte. Fê-lo, entretanto, porque o pleito —“utilização, pelos defensores, de projeções de slides durante as sessões de julgamento”[11]—já havia sido apreciado e denegado pelo Plenário. E não, ao contrário do que sugere a notícia, por estimar descabida a ocupação da tribuna pelo advogado para formular pedido.
A rigor, nem poderia, visto dispor, textualmente, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Os advogados ocuparão a tribuna para formularem requerimento, produzirem sustentação oral, ou responderem às perguntas que lhes forem feitas pelos Ministros” (artigo 124, parágrafo único).
Tanto antes, como depois do supracitado incidente, todavia, no mínimo três ou quatro vezes, ao acorrerem à tribuna para pedir a palavra pela ordem, apressavam-se os próprios advogados em anunciar pretenderem, “apenas”, elucidar “questões de fato”; quando não, de pronto indagou-lhes o insigne presidente do STF, em tom visivelmente restritivo e condicionante: “É matéria de fato, não é doutor?”
E se não fosse, lícito seria “cassar” dos advogados a palavra? Instá-los a desocuparem a tribuna?
Nas respostas afirmativas ditadas pela própria indagação do presidente, um dos mais renitentes mitos forenses.
A ele, contudo, prefira-se a Lei. E Lei Federal, 8.906/1994: “Artigo 7º: São direitos do advogado: (…) X —usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas; XI —reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento”.
E não consta hajam sido, sobreditas normas, glosadas ou banidas do ordenamento jurídico positivo!
Penitenciemo-nos, então —nós, os advogados—, pela expressiva contribuição prestada, mediante e ante posturas tais, a tão superlativo estreitamento da prerrogativa profissional da palavra pela ordem; à corporificação do falso truísmo de não se prestar ela senão a esclarecer questão fática; à esterilização, por assim dizer, desses categóricos preceitos do Estatuto da Advocacia.
Doravante, cuidemos, pois, de cobrar, sempre e com vigor, seu efetivo cumprimento, sua concreta observância. E, para mais, na significativa dimensão que lhe confere o artigo 133 da Carta Fundamental ao proclamar, enfaticamente, ser “o advogado indispensável à administração da justiça”.
[1] Acórdão publicado no DJ de 13.10.1995, ementário nº 1804-11.
[2] Página 08 do voto, fl. 2668 na numeração impressa no supracitado acórdão.
[3] Ministro CELSO DE MELLO. RTJ 161/264
[4] Idem supra.
[5] “Jurisprudência sobre corrupção pode ser flexibilizada”, por RAFAEL BALIARDO. CONJUR, 1º de setembro de 2012.
[6] Idem supra.
[7] FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO. Princípios básicos de direito penal. 3ª ed. SP: Saraiva, 1987, p. 224.
[8] “Só há domínio final do fato se houver dolo”, LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY, com respaldo em magistério de NILO BATISTA. CONJUR, Artigos, 25/09/2012.
[9] “Direito à palavra”. Seção Notícias, 20 de setembro de 2012.
[10] No dia seguinte, a Associação dos Juízes Federais – AJUFE averbou, em nota, que “(…) os fatos não ocorreram da forma como noticiados pela OAB (…)” (CONJUR, Notícias, 21/09/2012).
[11] CONJUR, idem supra.
Leônidas Ribeiro Scholz é advogado criminalista, conselheiro do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa) e membro do Conselho de Prerrogativas da OAB-SP.
Revista Consultor Jurídico, 16 de outubro de 2012Farto e variado o mosaico de posturas e intelecções jurídicas, novas ou remodeladas, quando não também —pelo menos algumas— antinômicas entre si, já produzido pelo ainda corrente julgamento do denominado mensalão.
Antes, porém, da que inspira o presente artigo, algumas outras, em ligeiro escorço:
Rejeição, na apreciação de questão de ordem —reiterada, da tribuna, pelo advogado Márcio Thomaz Bastos— da arguição de inconstitucionalidade da ampliação da competência penal do STF para processar e julgar, originariamente, os acusados que, por não exercerem qualquer das funções ou cargos públicos enumerados no artigo 102, I, b e c, da Constituição, não guardam relação alguma com o estrito e restrito fator determinante dessa “jurisdição excepcional, que afasta o juiz natural de qualquer pessoa” (voto do Min. MOREIRA ALVES no julgamento em que se decretou o cancelamento da Súmula 394 — Inq-QO 687, Rel. Min. SIDNEY SANCHES, j. 25 de agosto de 1999, DJ 9 de novembro de 2001);
Ainda que implicitamente, subsequente aceitação da tese na determinação de remessa a juízo de primeira instância do processo desmembrado em relação a corréu por força do reconhecimento de nulidade decorrente da falta de intimação válida da defesa no curso da ação penal;
Afastamento da necessidade, para a configuração dos delitos de corrupção ativa e passiva, até mesmo da mera indicação do ato de ofício representativo, ainda que apenas potencialmente, da contrapartida da vantagem indevida em que se consubstancia o objeto das condutas nucleares dos respectivos arquétipos legais.
Nesse lineamento, emblemático o antagonismo com o paradigma consagrado no julgamento da AP 307 (promovida contra ex-Presidente da República, entre outros), oportunidade em que assentou a Corte, com efeito: “1.2. Improcedência da acusação. Relativamente ao primeiro episódio, em virtude não apenas da inexistência de prova de que a alegada ajuda eleitoral decorreu de solicitação que tenha sido feita direta ou indiretamente, pelo primeiro acusado, mas também por não haver sido apontado ato de oficio configurador de transação ou comércio com o cargo então por ele exercido. No que concerne ao segundo, pelo duplo motivo de não haver qualquer referência, na denúncia, acerca de vantagem solicitada ou recebida pelo primeiro acusado, ou a ele prometida, e de não ter sido sequer apontado ato de oficio prometido ou praticado pelo primeiro acusado (…)”.[1] Ressalte-se haver o eminente ministro Celso de Mello, no longo e substancioso voto então proferido, repetidamente assinalado: “Sem a necessária referência ou vinculação do comportamento material do servidor público a um ato de oficio —ato este que deve obrigatoriamente incluir-se no complexo de suas atribuições funcionais (RT 390/100 RT 526/356 RT 538/324) revela-se inviável qualquer cogitação jurídica em torno da caracterização típica do crime de corrupção passiva definido no caput do art. 317 do Código Penal”[2];
Sensível esvaziamento do postulado constitucional da não-culpabilidade —“cujo domínio de incidência mais expressivo é o da disciplina da prova”[3] e no âmbito da qual “ (…) faz recair sobre o órgão da acusação, agora de modo muito mais intenso, o ônus substancial da prova, fixando direito a ser indeclinavelmente observado pelo magistrado e pelo legislador. É preciso relembrar, Sr. Presidente, que não compete ao réu demonstrar sua inocência. Antes, cabe ao Ministério Público demonstrar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado”[4] —por enunciados como: “nos delitos de poder, autoriza-se “maior elasticidade na admissão da prova de acusação”[5], “se há fato extraordinário, que foge à conclusão com base na experiência, cabe então à defesa prová-lo. O comportamento ilícito se infere da experiência”[6], etc.;
Reconhecimento de responsabilidade penal por autoria intelectual à base da elastecida concepção de que a teoria do domínio do fato —germinada por WELZEL em 1939 e aperfeiçoada por ROXIN em 1963— dispensaria conduta pessoal concreta e conscientemente conectada à realização do ilícito, contentando-se com a simples proeminência funcional ou ascendência hierárquica sobre os respectivos autores materiais. Emblemático viés “contemporâneo” do “direito penal de autor”: “Fácil será, portanto, apontar, na história, períodos em que se pretendeu, por motivos religiosos ou por razões de Estado, fundar a pena criminal não naquilo que o “agente faz”, mas no que “ele é” (…)”.[7] Ou seja: responsabilidade penal objetiva. E, mais, na contramão de taxativo pressuposto da própria teoria de ROXIN: “(…) a posição de domínio somente pode ser concebível com a intervenção da consciência e vontade do agente. Não podendo, assim, haver domínio do fato sem dolo, compreendido como conhecer e querer os elementos objetivos que compõem o tipo legal”[8];
Compreensão de que o crime de lavagem de dinheiro aperfeiçoa-se com a mera ocultação do bem, direito ou valor proveniente de outro ilícito penal, ainda que atribuídos, ambos, à(s) mesma(s) pessoa(s), transfundindo-se, portanto, numa extravagante espécie de favorecimento real praticado pelo mesmo agente do crime antecedente! Ademais, na linha da intelecção majoritariamente agasalhada no julgamento em tela, o recebimento de dinheiro representativo da vantagem indevida constitutiva do objeto material do delito de corrupção passiva, ao mesmo tempo em que protagonizaria a sua própria consumação ou exaurimento (na modalidade de solicitar), caracterizaria, também, o branqueamento de capitais. Conseguintemente, este só não ganharia concreção se o agente declarasse provir o numerário recebido de crime de corrupção; id est: se o confessasse. Às favas, pois, o secular nemo tenetur se detegere!
Agora, e finalmente, o tema do artigo. Cerca de vinte dias atrás e sob o subtítulo “OAB apurará se Britto violou prerrogativas de Toron”, noticiou a revista eletrônica ConJur: “ (…) Britto negou a fala ao criminalista, antes mesmo que Toron dissesse qual era a questão de ordem que pediria. “Eu gostaria de pedir uma questão de ordem”, disse o advogado. “Eu indefiro”, respondeu o ministro. “Mas, Vossa Excelência, eu ainda nem falei”, argumentou Toron. “Mas eu indefiro”, resolveu Britto (…)”[9]
Independentemente de eventuais divergências sobre a exata configuração factual do episódio noticiado[10], encerra ele destacada relevância no contexto do pedido, da concessão e do uso da “palavra pela ordem”, durante audiências e sessões de julgamento, pelo advogado.
É que à tribuna não se dirigiu o mencionado patrono para simplesmente “esclarecer matéria de fato”, expressão consagrada na praxe forense para balizar, indevidamente, a intervenção do advogado. Mas para deduzir requerimento. Indeferiu-o, é fato, o eminente presidente da corte. Fê-lo, entretanto, porque o pleito —“utilização, pelos defensores, de projeções de slides durante as sessões de julgamento”[11]—já havia sido apreciado e denegado pelo Plenário. E não, ao contrário do que sugere a notícia, por estimar descabida a ocupação da tribuna pelo advogado para formular pedido.
A rigor, nem poderia, visto dispor, textualmente, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Os advogados ocuparão a tribuna para formularem requerimento, produzirem sustentação oral, ou responderem às perguntas que lhes forem feitas pelos Ministros” (artigo 124, parágrafo único).
Tanto antes, como depois do supracitado incidente, todavia, no mínimo três ou quatro vezes, ao acorrerem à tribuna para pedir a palavra pela ordem, apressavam-se os próprios advogados em anunciar pretenderem, “apenas”, elucidar “questões de fato”; quando não, de pronto indagou-lhes o insigne presidente do STF, em tom visivelmente restritivo e condicionante: “É matéria de fato, não é doutor?”
E se não fosse, lícito seria “cassar” dos advogados a palavra? Instá-los a desocuparem a tribuna?
Nas respostas afirmativas ditadas pela própria indagação do presidente, um dos mais renitentes mitos forenses.
A ele, contudo, prefira-se a Lei. E Lei Federal, 8.906/1994: “Artigo 7º: São direitos do advogado: (…) X —usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas; XI —reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento”.
E não consta hajam sido, sobreditas normas, glosadas ou banidas do ordenamento jurídico positivo!
Penitenciemo-nos, então —nós, os advogados—, pela expressiva contribuição prestada, mediante e ante posturas tais, a tão superlativo estreitamento da prerrogativa profissional da palavra pela ordem; à corporificação do falso truísmo de não se prestar ela senão a esclarecer questão fática; à esterilização, por assim dizer, desses categóricos preceitos do Estatuto da Advocacia.
Doravante, cuidemos, pois, de cobrar, sempre e com vigor, seu efetivo cumprimento, sua concreta observância. E, para mais, na significativa dimensão que lhe confere o artigo 133 da Carta Fundamental ao proclamar, enfaticamente, ser “o advogado indispensável à administração da justiça”.
[1] Acórdão publicado no DJ de 13.10.1995, ementário nº 1804-11.
[2] Página 08 do voto, fl. 2668 na numeração impressa no supracitado acórdão.
[3] Ministro CELSO DE MELLO. RTJ 161/264
[4] Idem supra.
[5] “Jurisprudência sobre corrupção pode ser flexibilizada”, por RAFAEL BALIARDO. CONJUR, 1º de setembro de 2012.
[6] Idem supra.
[7] FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO. Princípios básicos de direito penal. 3ª ed. SP: Saraiva, 1987, p. 224.
[8] “Só há domínio final do fato se houver dolo”, LEONARDO ISAAC YAROCHEWSKY, com respaldo em magistério de NILO BATISTA. CONJUR, Artigos, 25/09/2012.
[9] “Direito à palavra”. Seção Notícias, 20 de setembro de 2012.
[10] No dia seguinte, a Associação dos Juízes Federais – AJUFE averbou, em nota, que “(…) os fatos não ocorreram da forma como noticiados pela OAB (…)” (CONJUR, Notícias, 21/09/2012).
[11] CONJUR, idem supra.
Leônidas Ribeiro Scholz é advogado criminalista, conselheiro do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa) e membro do Conselho de Prerrogativas da OAB-SP.
Revista Consultor Jurídico, 16 de outubro de 2012