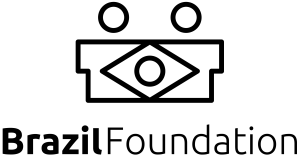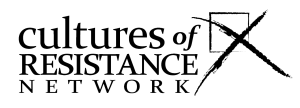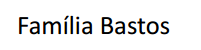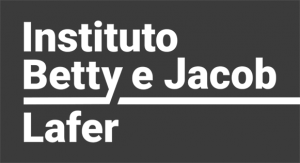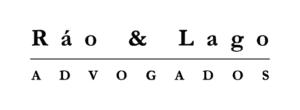Domitila Köhler é advogada criminal e integrante do Grupo de Litigância Estratégica do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD)
Guilherme Ziliani Carnelós é advogado criminal. Diretor de Litigância Estratégica do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD)
Não é com originalidade que afirmamos, logo de início, que vivemos tempos bicudos, comparáveis em algum grau ao negro período de supressão de direitos individuais que enodoam a história nacional e que, dói dizer, parece ter sido esquecido pelo povo. O mesmo povo que outrora gritou “diretas já” ou que se comoveu com as Mães da Praça de Maio, dizendo-se “farto de tanta corrupção”, pede punição a todo custo.
É legítimo e compreensível que o povo esteja farto, afinal, não são poucas as notícias de falta de lisura dos nossos eleitos. Incompreensível, todavia, é que a resposta a essa voz popular seja simplista a ponto de levar o país e a jurisprudência ao mesmo patamar anterior à Constituição Cidadã de desrespeito sistematizado a direitos.
O grande ponto é que esse coro vem sendo engrossado por operadores do direito, que, sem rubor, admitem que fins justifiquem os meios e, assim, contribuem para o desenvolvimento da mais perigosa das ditaduras, a da caneta. Um autoritarismo populista, vestido em pele de cordeiro e viabilizado pela existência de tipos penais abertos.
No contexto de combate à corrupção, o tipo penal que mais atrai holofotes é o que se convencionou chamar “obstrução de Justiça”, crime próprio das investigações que envolvem organizações criminosas (artigo 2º, § 1º, Lei 12.850/2013). E aqui já há duas aberturas condenáveis: a primeira proporcionada pelo texto da lei, que é demasiadamente genérico; a segunda pela caneta.
Com efeito, é nos jornais que se vê que as grandes operações recentes de combate à corrupção estão apoiadas nas diretrizes da Lei 12.850/2013. Tudo virou sinônimo de organização criminosa. E, pior, a atuação defensiva nesse tipo de investigação tem sido vista e tratada de forma equivocada.
É cediço que o direito constitucional ao silêncio tem como consectário inafastável, no sistema jurídico pátrio, o direito de o investigado dar a versão que quiser aos fatos que voluntariamente resolver abrir a qualquer autoridade encarregada da persecução penal. Também é cediço que o interrogatório não é meio de prova, mas de defesa. Além disso, não há a legislação nenhum dispositivo que impeça que investigados conversem e — a despeito de qualquer moralismo com que se queira qualificar — concertar versões. Somando tudo isso, é tecnicamente viável que acusados mintam e, sim, que combinem o que dizer de modo a garantir maior sucesso na defesa.
Mas a partir do momento em que interrogatório passou a ser equivocadamente tratado como meio de prova, tudo mudou. O que era visto apenas como imoral ganhou status de típico, antijurídico e culpável. Essa mudança foi repentina e ganhou estofo na generalidade do tipo “obstrução de Justiça”, que até hoje ninguém sabe o que exatamente significa.
Na medida em que, para os casos recentes, a única fonte de prova é a delação premiada, qualquer que seja a atitude que atrapalhe os caminhos desse instituto tem sido tratada com rigor que, de tão excessivo, deixa integralmente de lado toda e qualquer noção do conceito de um interrogatório e, mais, dos desdobramentos do direito constitucional ao silêncio.
Pior, ganha força uma visão dicotômica do processo: ou o acusado colabora (leia-se, delata) ou sua omissão passa a ser vista como obstáculo. Aliás, o que não é a defesa se não obstáculo a investigadores e paladinos que sonham em não ter rédeas?
Essa foi uma das perguntas provocadas por caso recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se do Habeas Corpus 141.478/RJ, que questiona a prisão preventiva para proteger a instrução criminal. O fato? Uma reunião, na presença de advogados, na qual se tratou das possíveis consequências de uma busca e apreensão ocorrida no endereço de um dos envolvidos.
Acontece que dois dos participantes dessa conversa resolveram, após referida reunião, colaborar com a Justiça. Mas para fazer perseverar a delação tudo há de valer. Assim, segundo a lógica do decreto de prisão, quem pretendia que o interrogatório trouxesse oposição às acusações vindouras, e não uma delação, evidentemente tencionava embaraçar investigações.
Essa é uma conclusão de consequências gravíssimas para o direito de defesa e, portanto, uma preocupação do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD). Tanto que o instituto ingressou e foi admitido como amicus curiae no Habeas Corpus em apreço.
A ordem foi parcialmente concedida pelo eminente ministro Gilmar Mendes que, conquanto tenha preferido esperar definição colegiada a respeito do alcance do tipo, fez um alerta claro e condizente com a realidade do processo penal: “É preciso que o Judiciário assuma, com responsabilidade, o papel de órgão de controle dos pedidos do Ministério Público”.
Isso só vai ocorrer, senhor ministro, quando os magistrados retomarem a toga da imparcialidade e se despirem da armadura que vestiram quando partiram para o front.
Artigp publicado originalmente no Portal do ConJur em 27 de outubro de 2017.