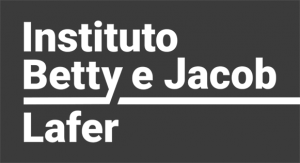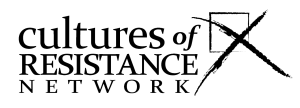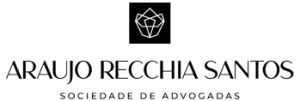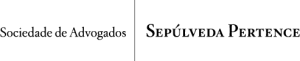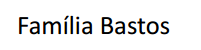Artigo de Ana Fernanda Ayres Dellosso e Gustavo de Castro Turbiani,
integrantes do Grupo de Litigância Estratégica do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD)
Desde 1988, a Constituição Federal diz que os direitos das crianças devem ser assegurados com a mais “absoluta prioridade” (art. 227). Nessa previsão se baseiam diversos instrumentos normativos centrados no bem-estar da criança – desde o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) até, mais recentemente, o Marco Legal da Primeira Infância, com a Lei nº 13.257/16.
A mais substancial previsão dessa nova lei consiste na possibilidade prisão domiciliar às presas provisórias gestantes ou com filhos de até 12 (doze) anos incompletos (Art. 318, V, CPP).
A concretização de leis a priorizar a proteção à criança decorre, sobretudo, do reconhecimento empírico e científico de que a infância consiste no período mais vital e estratégico ao pleno desenvolvimento do ser humano – tanto na questão física, quanto em relação às habilidades cognitivas, aptidões, bases culturais e sociais. Ainda, a proteção à criança passa necessariamente por proteger o próprio convívio familiar, pois deste advêm os estímulos e oportunidades que contribuirão ao desenvolvimento supra referido. E é assim que surge a necessidade de proteção à figura materna, afinal, ninguém nega a ligação visceral entre o infante e a mãe, sobretudo na primeira infância, em que o desenvolimento físico depende da gestação e amamentação.
Portanto, a Lei nº 13.257/16 veio inegavelmente em boa hora, para internalizar todas essas premissas básicas para proteção à criança e ao convívio familiar. Mas a importância da lei é ainda maior diante do atual sistema prisional brasileiro, incapaz de abrigar gestantes, lactantes ou mães de crianças na primeira infância.
Nesse sentido, dados extraídos do INFOPEN revelam: Em dezembro de 2014, havia 36.495 mulheres presas, sendo um terço delas em cautelar. Aproximadamente 5% desta população (mais de 1.200 mulheres) são portadoras de doenças transmissíveis, como HIV, sífilis e tuberculose. E ainda: há apenas 37 ginecologistas para toda a população prisional feminina e apenas 37% das unidades prisionais dispõem de módulos de saúde[1].
Quanto à estrutura para abrigar as crianças, os dados demonstram: (i) apenas 34% das unidades femininas e 6% das unidades mistas dispõem de cela/dormitório adequado para gestantes; (ii) apenas 32% das unidades femininas e 3% das unidades mistas dispõem de berçários; (iii) apenas 5% das unidades femininas dispõem de creches.
É incontestável, portanto, que nenhuma mulher submetida ao sistema prisional brasileiro conta com tratamento de saúde mínimo e adequado. Quem dirá, então, gestantes, lactantes e mães com filhos de até 12 (doze) anos que demandam tratamento especial e prioritário, por exigência constitucional.
Não obstante os dados trazidos, a verdade é que a Lei n° 13.257/16 tem sido aplicada com a mesma seletividade com que nossa justiça criminal está, há muito, acostumada: poucas mulheres têm garantido seu direito à proteção familiar, enquanto as outras, em geral de extratos sociais menos favorecidos, são mantidas no cárcere, esquecidas.
Com efeito, na prática, ainda há decisões que negam esses direitos às mulheres gestantes ou com filhos de até 12 anos. Em geral, os fundamentos dessas negativas são: (i) alegada inexistência de direito público subjetivo e discricionariedade do Juízo na avaliação do caso concreto, já que a lei diz que “poderá o juiz” substituir a prisão por domiciliar, o que permitiria a seletividade com que – e para quem – a alteração legal é aplicada; (ii) vedação da substituição do cárcere em casos de execução provisória da pena, conforme julgado do STF no HC n° 126.292 – ao argumento de que a lei restringe-se à “prisão preventiva” [2].
A exemplo, note-se o seguinte trecho de um julgado do STJ: “Interpretando o art. 318, V, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/2016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso da mulher com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, como as condições que envolveram a prisão da mãe. 8. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrada a imprescindibilidade da presença materna nos cuidados da criança, não havendo falar em prisão domiciliar no caso” [3].
Como se vê, apesar da previsão legal de prisão domiciliar às mulheres gestantes e com filhos até 12 anos, a decisão judicial impôs à mãe o ônus de comprovar a “imprescindibilidade” de sua presença aos cuidados da criança. Será mesmo necessário provar que a mãe é indispensável aos cuidados da criança? Acaso essa já não seria uma premissa do legislador ao proteger os interesses da criança e prever a referida domiciliar às mães? Ou haverá algum convívio materno “dispensável” e caberá ao julgador penal decidir sobre isso?
O correto, aqui, seria que se conseguisse provar o contrário: que a mãe é dispensável – isso na hipótese de se comprovar que a mãe, mesmo em liberdade, realmente não se ocupa dos cuidados com o infante. Mas esse ônus evidentemente é de quem se encarrega da persecução criminal, não da presa. Daí a solução “caseira” da jurisprudência em exigir que a mãe comprove que é efevetivamente… mãe. Um abuso.
Não menos absurda parece a consideração de que, após a condenação em segunda instância, as mesmas mulheres que antes tinham o direito à domiciliar deixam de possuí-lo, por não mais se encontrarem em prisão preventiva. Nessas situações, a negativa ao direito da mulher e da criança assenta-se em fundamento bastante frágil – um julgado a favor da execução provisória da pena após a condenação em segunda instância (HC 126.292 STF), situação não consubstanciada em lei. Não bastasse, o argumento ignora o interesse da criança.
Em síntese, a não aplicação do artigo 318, V, do CPP decorre de uma visão turva sobre a situação carcerária feminina e os direitos das crianças, em especial quanto às famílias mais pobres. As decisões que negam a domiciliar a essas mulheres, em geral, utilizam argumentos que ignoram a situação da criança e as condições materiais da mãe de comprovar sua “imprescindibilidade” aos cuidados dos filhos.
Espera-se que questões como essas possam ser sopesadas pelo STF em breve. Importante ressaltar, no ponto, o habeas corpus coletivo, movido pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu), em prol de todas as mulheres presas gestantes, puérperas ou mães com filhos de até 12 anos. Com fundamento nos direitos constitucionais à saúde, à vedação a prisão em condições desumanas e degradantes, além da Lei 13.257/2016, a instituição pede a concessão da liberdade a todas essas mulheres ou, subsidiariamente, a sua substituição por domiciliar. A ação ainda não foi julgada pelo STF e o IDDD pretende sua habilitação como amicus curiae.
[1] – Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen – junho de 2014.
[2]. A exemplo desse último argumento, vide decisão pública da primeira instância federal em Curitiba (Juízo das execuções, 12ª Vara Federal, autos 5062678-07.2016.4.04.7000/PR).
[3]. STJ, HC 410271/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26.10.2017. No mesmo sentido: STJ, HC 370.269/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 10.11.2016.